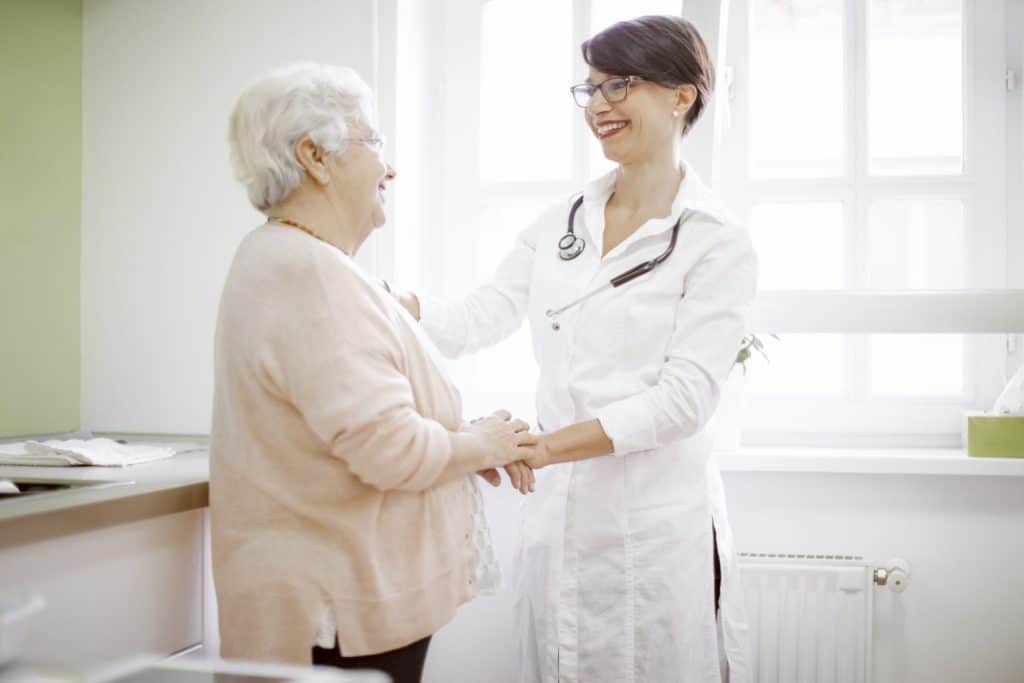Como consultamos?
Como consultamos? Você já parou para pensar de onde vem esse modelo, ou forma, de conduzir uma consulta médica? Ou por que raciocinamos os diagnósticos e intervenções da forma como fazemos?
Tudo isso tem uma origem, que vem do início do século 20. Mais precisamente em 1910, Abraham Flexner, patrocinado pela Carnegie Foundation, elaborou um relatório que padronizou o ensino da medicina, fazendo com que das 155 escolas nos Estados Unidos e no Canadá, apenas 31 continuassem a funcionar[1].
A partir de então, o ensino da medicina começou a adotar algumas características, dentre elas, o mecanicismo (comparação do homem com uma máquina, e a divisão em pequenas partes para o seu melhor entendimento), o biologicismo (atribuindo toda e qualquer causa às doenças uma origem biológica), o individualismo, a verticalidade, a centralidade na doença, o tecnicismo, a concentração de recursos nos hospitais, etc.
Essas características influenciam até hoje o ensino médico, e, portanto, o modo como aprendemos a consultar. Nós aprendemos a consultar por meio de uma disciplina geralmente chamada de propedêutica médica. Nela recebemos alguns roteiros prontos, e passamos aprender uma série de siglas e um vocabulário próprio.
O local de preferência de aprendizado é quase sempre na beira de um leito. E o desafio principal resume-se a elaborar um raciocínio clínico a partir de um conjunto de sinais de sintomas e uma intervenção terapêutica. Além disso, somos muito cobrados a realizar uma história completa e devemos sempre estar atentos a “não comer nenhuma bola”.
Consequências do modelo biomédico
Nada de errado até agora, certo? Bom, mais ou menos. Esse modelo impactou a medicina de uma forma muito enriquecedora para nossa saúde, trazendo muitas técnicas e tecnologias. Porém, trouxe também algumas consequências negativas, dentre elas, o distanciamento da relação entre o médico e o paciente.
Estudos mostram que somente ¼ dos pacientes (23 a 28%) completam sua fala de abertura. E que os médicos interrompem a fala de abertura de seus pacientes entre 18 e 23,1 segundos do início da consulta[2].
No primeiro sinal/sintoma citado pelo paciente, o raciocínio médico começa a funcionar, tentando de imediato elaborar um diagnóstico. E então começa a conduzir a consulta de forma taxativa, cortando possíveis “rodeios” desnecessários relatados pelo paciente.
A lógica de pensar o cuidado dos pacientes a longo prazo passa longe, queremos resolver tudo naquele momento. Nunca podemos perder a oportunidade, pois não sabemos quando veremos o paciente novamente. E, como consequência, adotamos uma postura paternalista, recheada de conselhos do que o paciente não deve fazer, e como deve fazer o que dizemos.
Agora, a experiência da doença que cada paciente tem em particular, suas expectativas, seus medos, suas esperanças, não tem espaço nesse modelo. A empatia de tentar entender o mundo no momento da consulta, pela óptica do paciente, se torna tarefa quase impossível nesse modelo.
Tudo isso resulta em um distanciamento e em uma frieza nas relações, e os médicos, cada vez mais, são vistos apenas como meros prescritores ou solicitadores de exames. Inclusive, odiamos quando o paciente já vem com um pedido de exame pronto na cabeça. Só que esquecemos que quem ensinou esse modo de consulta para ele fomos nós mesmos.
Como mudar tudo isso?
Perguntas difíceis, respostas complexas. Claro que não existe uma só maneira. Essa mudança passa desde a formação médica, até a forma de remuneração que deveria estimular a excelência do cuidado, e não a corrida desenfreada pela realização de cada vez mais e mais procedimentos.
Mudar é preciso, os sistemas de saúde já não se sustentam mais somente com esse modelo. Os pacientes estão cada vez mais insatisfeitos com a forma que a assistência à saúde é prestada. E nós médicos, cada vez menos estamos satisfeitos com o nosso trabalho.
Nos próximos artigos tentarei falar sobre algumas possibilidades de mudanças que dependam exclusivamente de nós profissionais.
[1]http://archive.carnegiefoundation.org/pdfs/elibrary/Carnegie_Flexner_Report.pdf
[2] Beckman & Frankel, 1984; Marvel et al, 1999.